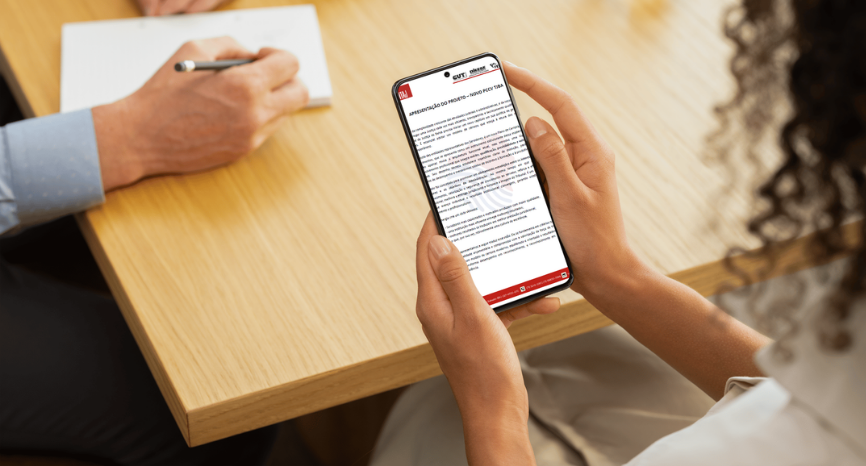Famílias oriundas das classes populares. Pobres ou classe média baixa. O concurso público como garantidor de estabilidade que permite realizar os sonhos. A consciência da necessidade de estudar para ter o direito e a possibilidade de se impor. O racismo ontem, hoje e sempre.
Esses são alguns dos pontos em comum nas histórias de vida dos quatro entrevistados para essa reportagem. Negros e servidores de unidades judiciárias no TJ-BA (Tribunal de Justiça da Bahia), contam, neste texto, suas trajetórias, como lidam com a posição social que ocupam e com o racismo no trabalho e na vida.
Os negros, na maioria das vezes, chegam ao Judiciário como réus ou vítimas dos crimes em que a pobreza e a falta de oportunidade são fatores determinantes para se tornar um alvo em potencial. De acordo com dados do Infopen (Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias), 64% das cerca de 726 mil pessoas encarceradas no Brasil são negras. Segundo o Atlas da Violência 2018, nos últimos dez anos a taxa de homicídios de mulheres não negras diminuiu 8%, enquanto que a de mulheres negras aumentou 15%.
Na outra ponta do sistema de Justiça os negros são apenas 29,1% do total de trabalhadores concursados do Judiciário brasileiro, segundo o último Censo do Poder Judiciário, realizado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), em 2013 e apenas 18% dos magistrados, de acordo com levantamento do Colegiado feito neste ano.
No cenário baiano as estatísticas mostram que, em relação ao Brasil, o panorama é melhor. Ainda de acordo com o censo do CNJ de 2013, 61% dos trabalhadores do TJ-BA se declaram negros (10,2% se reconhecem enquanto pretos e 50,9% pardos). Nadja Cruz, Eric Nascimento, Antônio Carlos Ribeiro e Paula Carolina Silveira estão entre estes.
Foi luta. Foi batalha

Minha mãe foi empregada doméstica. Fui criado sem pai. Nunca fui remediado, não. A gente era pobre mesmo. Lá em casa não tinha televisão. Geladeira a gente veio ter depois de muito tempo”. Várias vezes, durante a entrevista que deu para esta reportagem, Antônio Carlos Ribeiro, 52, mais conhecido como AC, técnico judiciário lotado na COPAT (Coordenação de Controle Patrimonial), fez questão de destacar que se hoje ainda é muito difícil para os negros, antigamente “se via era coisa nessa Bahia” em relação ao racismo.
Com talento para matemática, conta que sempre estudou com o objetivo de adquirir conhecimento e também mudar de vida. É formado em gestão ambiental e atualmente cursa engenharia de automação. Quando ainda era servidor municipal em Salvador, via muitos dos seus colegas passarem em concursos para os Juizados Especiais. Resolveu arriscar. Passou. “Tudo isso foi através de luta. De batalha”, salienta.

Eric Nascimento só conseguiu entrar na faculdade depois que passou no concurso do TJ-BA, sete anos após terminar o ensino médio. O curso de sistema de informação não existia na sua cidade, na rede pública, na época em que terminou o colegial, e seus pais, professores, não tinham condições de mantê-lo fora de Jequié, no centro-sul baiano, sua cidade natal. “Depois passou a ter o curso na cidade só que diurno. Ou trabalhava ou estudava. Eu preferi estudar a noite e fazer na rede particular”, relata o digitador da comarca de Ipiaú, no sul baiano.
Todos os trabalhadores entrevistados afirmaram vir de famílias humildes, muito pobres ou que faziam pouco com muito esforço. A maioria estudou em escola pública e não teve uma trajetória com muitas facilidades. Cada um com suas peculiaridades, falam do esforço dos pais para que tivessem uma vida melhor e destacam o grande empenho pessoal que tiveram que empreender para chegar onde chegaram. Na maioria dos casos também fica claro que pequenos privilégios, como o de ter pais conscientes da questão racial ou que em certo momento tiveram uma melhora financeira ou estudar em escola particular fizeram grande diferença.
Quando você soube?

Nadja Cruz, 35, é digitadora de uma das unidades dos Juizados Especiais da cidade de Juazeiro, no Vale do São Francisco. Negra de pele clara, conta que em casa o pai sempre deixou claro que ela e os irmãos eram negros e sempre falou abertamente sobre a existência do racismo. Nadja não consegue apontar uma primeira situação em que se deu conta da cor da sua pele porque “sempre aconteceu. Desde criança”. Mas destaca uma que lhe marcou. “Eu namorava um menino bem branco. E a mãe dele era bem negra. Eu era adolescente na época. Um dia ela me disse: olha, eu tenho cinco filhos e todos eles são muito brancos. Sabe o que é isso? Isso é barriga limpa. Eu espero que a sua seja também”.

Já Paula Carolina Silveira, 39, técnica judiciária lotada no Fórum do Imbuí em Salvador, não se lembra de ter sofrido com o racismo na infância, apesar de ter estudado em escola particular. No entanto, se recorda de uma ocorrência profissional. Na época em que ela era atendente de recepção um advogado lhe disse que ela não estava apta a estar onde estava. “Ele queria uma coisa que não era possível naquele momento. Eu disse a ele que eu tanto estava apta que estava no mesmo ambiente que ele e, inclusive, do outro lado do balcão”, conta Paula que, apesar de ter se posicionado, acredita que o advogado tenha descarregado nela o estresse com a situação.
Todos os trabalhadores apontaram mais de uma situação marcante em que foram lembrados que eram negros, dentro e fora do ambiente de trabalho. “As pessoas me perguntam se eu lavo o meu cabelo, se entra pente, se o meu cabelo é fedido. Se entra capacete. Todas essas coisas eu já ouvi aqui de usuários no trabalho”, relata Eric. Já AC lembrou das vezes em que ao entrar nos prédios das famílias para as quais a mãe prestava serviço era obrigado a usar o elevador de serviço.
O negro no tribunal
Os entrevistados declararam não se sentirem discriminados pelos colegas de trabalho, de uma forma geral. Afirmam que boa parte do preconceito que enfrentam no ambiente profissional se dá por parte dos advogados, da população e, em determinados casos, quando adentram ambientes do Tribunal em que predomina o alto escalão da Justiça, leia-se juízes e desembargadores. Os relatos de considerações não solicitadas sobre o cabelo e a cor da pele e do espanto das pessoas por verem alguém negro em uma posição qualificada são recorrentes. A sensação de que a sociedade considera que eles estão em um lugar que não é o “correto” está sempre presente. Todos declaram reagir altivamente sempre que identificam que estão sendo vítimas de racismo.
Os servidores também consideram o sistema de Justiça brasileiro racista. E acreditam que há um tratamento muito pior para os negros do que para os brancos, mesmo que estes estejam em situações similares. Eric chama atenção para o encarceramento da comunidade negra. “O jeito que um branco é tratado é completamente diferente. Por pior que sejam os crimes”, afirma.
Estabilidade
A visão do concurso como uma garantia de uma vida minimamente estável do ponto de vista financeiro foi o que levou os entrevistados a se tornarem servidores do TJ-BA. “ Para a gente que é pobre e preto a melhor forma de conseguir se estabilizar é através de concurso. Meu pai sempre me ensinou isso. Tem que passar em um concurso, ele dizia. Me inscrevi e passei em quarto lugar”, conta Nadja, filha de um servidor público, auxiliar de serviços gerais negro e uma dona de casa branca.
O mesmo relata Paula Carolina, que viu o concurso como a melhor saída há 12 anos atrás, quando ainda não tinha cursado uma faculdade. “Eu sempre gostei da área [jurídica] e como eu não tinha formação superior foi o concurso mais barato na época para eu fazer a inscrição. Não criei muita expectativa de passar. Concorri para duas vagas em Itaparica e peguei uma”, conta a servidora que atualmente cursa Direito.
Referência
Questionada se já sentiu que a sua condição de mulher negra já atrapalhou a sua trajetória profissional, Paula Carolina nega. Mas admite que muitas pessoas não esperam ter os seus problemas resolvidos por alguém como ela. “Quando a colega informa para a pessoa entrar e procurar Paula elas abrem a porta e eu me identifico, vem uma fisionomia diferente de: como assim é você? Inclusive negras. Principalmente agora que eu estou com as tranças”, conta.
Já Nadja relata esse susto levado pelas pessoas quando se deparam com ela na sala de audiências com um toque de humor. “É muito engraçado quando você vê alguém entrando em uma sala de audiência e vendo ao lado do juiz uma negra de cabelo crespo. Porque a pessoa se choca. Eu sei que é o racismo que está nelas, mas eu tenho vontade de dar risada”.
Mas ao lado do espanto negativo existe também o positivo e é nesse que Nadja procura focar. “Alguns negros também se assustam. Já outros acham ótimo. Principalmente os mais pobres. Eu tenho observado que as crianças conseguem ver um referencial. Elas adoram. Eu acho muito bonitinho quando eu passo e elas vêm que eu sou uma servidora negra e ficam meio que babando”.